SEJAM BEM VINDOS!!!!
OLÁ PESSOAL,
SEJAM TODOS BEM VINDOS AO MEU BLOG.
ESTE BLOG VISA TROCAR IDEIAS SOBRE LIVROS, FILMES, TEATRO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS CULTURALMENTE INTERESSANTES.
ESPERO QUE VOCÊS GOSTEM.
OBRIGADA PELA PRESENÇA.
SEJAM TODOS BEM VINDOS AO MEU BLOG.
ESTE BLOG VISA TROCAR IDEIAS SOBRE LIVROS, FILMES, TEATRO, ENTRE OUTROS ASSUNTOS CULTURALMENTE INTERESSANTES.
ESPERO QUE VOCÊS GOSTEM.
OBRIGADA PELA PRESENÇA.
LIVROS...
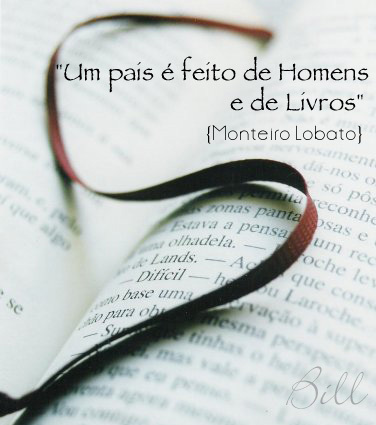
INTELIGÊNCIA DO GRANDE ESCRITOR MONTEIRO LOBATO...
terça-feira, 28 de setembro de 2010
TIPOS DE NARRADOR
TIPOS DE NARRADOR
De acordo com Lígia Chiappini Moraes Leite, desde sempre, entre os fatos narrados e o público, se interpôs um narrador. Este seria a voz que nos fala, velando e desvelando narrador e personagem, numa fusão que os apresenta ao leitor ao mesmo tempo que os distancia. O narrador, na obra literária, é um ser ficcional criado pelo autor para contar a história e dirige-se a um leitor, também ficcional que é o narratário.
Norman Friedman, citado por Leite (1999), apresenta-nos seis tipos de narrador, os quais abordaremos separadamente. A primeira categoria proposta por Friedman é o:
“Narrador onisciente intruso”. Aqui há uma tendência ao sumário (narrador sem diálogo), embora possa também aparecer a cena (uso de travessão entre a fala das personagens). O narrador onisciente tem a liberdade de narrar à vontade, de colocar-se acima ou por trás, adotando um ponto de vista divino. Pode também narrar da periferia dos acontecimentos, ou do centro deles, ou ainda limitar-se a narrar como se estivesse de fora, ou de frente, podendo, ainda, mudar e adotar várias posições. Seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a vida, ou costumes, a moral, etc. que podem ou não estar entrosados com a história narrada. Esse narrador nos fala em terceira pessoa.
O “narrador onisciente neutro” também nos fala em terceira pessoa, descrevendo e explicando as personagens para o leitor. Se distingue do narrador onisciente intruso apenas pela ausência de instruções e comentários gerais ou mesmo sobre o comportamento das personagens, embora a sua presença, interpondo-se entre o leitor e a história, seja sempre muito clara. Nessa categoria, tende ao sumário, mas o uso da cena é bastante freqüente para momentos de diálogo e ação.
Seguindo a classificação de Friedman, o “narrador testemunha” possui um ângulo de visão mais limitado. Narra em primeira pessoa e é interno à narrativa, vivendo os acontecimentos como personagem secundário e observando-os de dentro. Quando se está em busca da verdade, apela-se para o testemunho de alguém. Ele narra da periferia dos acontecimentos, não consegue saber o que se passa na cabeça do outros, apenas pode inferir, lançar hipóteses. Usa informações alheias, ou seja, coisas que viu ou ouviu, e até mesmo, de cartas ou documentos secretos que tenham ido cair em suas mãos.
A quarta categoria para Friedman seria o “narrador protagonista”, que funciona como personagem central, não tendo acesso ao estado mental das demais personagens. Narra em primeira pessoa, de um centro fixo, limitado às suas percepções, pensamentos e sentimentos.
A quinta categoria para Friedman seria de “onisciência seletiva múltipla”, não há propriamente narrador, funciona através das mentes das personagens. Há um predomínio quase absoluto da cena. Aqui o autor traduz detalhadamente os pensamentos, percepções e sentimentos, filtrados pela mente das personagens. A “onisciência seletiva”, é semelhante à múltipla, caracteriza-se apenas por revelar as percepções de uma só personagem (ponto de vista da personagem). O que predomina no caso da onisciência múltipla e da onisciência seletiva é o discurso indireto livre (pensamento da personagem). É o narrador encenando o processo mental das personagens. Não são usados aspas ou travessão para demonstrar esses pensamentos.
Além desses seis tipos de narrador, Friedman nos apresenta o “modo dramático” e o “câmera”, que não são propriamente narradores, pois no primeiro o ângulo é frontal e fixo, ou seja, se dá através da fala das personagens (diálogos), e, no segundo, se aproxima o foco de alguma coisa, transmitindo flashes de realidade, como se apanhados por uma câmera.
Publicado em: julho 16, 2007
http://pt.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1631598-foco-narrativo/
ACESSO EM: 1/09/2010
De acordo com Lígia Chiappini Moraes Leite, desde sempre, entre os fatos narrados e o público, se interpôs um narrador. Este seria a voz que nos fala, velando e desvelando narrador e personagem, numa fusão que os apresenta ao leitor ao mesmo tempo que os distancia. O narrador, na obra literária, é um ser ficcional criado pelo autor para contar a história e dirige-se a um leitor, também ficcional que é o narratário.
Norman Friedman, citado por Leite (1999), apresenta-nos seis tipos de narrador, os quais abordaremos separadamente. A primeira categoria proposta por Friedman é o:
“Narrador onisciente intruso”. Aqui há uma tendência ao sumário (narrador sem diálogo), embora possa também aparecer a cena (uso de travessão entre a fala das personagens). O narrador onisciente tem a liberdade de narrar à vontade, de colocar-se acima ou por trás, adotando um ponto de vista divino. Pode também narrar da periferia dos acontecimentos, ou do centro deles, ou ainda limitar-se a narrar como se estivesse de fora, ou de frente, podendo, ainda, mudar e adotar várias posições. Seu traço característico é a intrusão, ou seja, seus comentários sobre a vida, ou costumes, a moral, etc. que podem ou não estar entrosados com a história narrada. Esse narrador nos fala em terceira pessoa.
O “narrador onisciente neutro” também nos fala em terceira pessoa, descrevendo e explicando as personagens para o leitor. Se distingue do narrador onisciente intruso apenas pela ausência de instruções e comentários gerais ou mesmo sobre o comportamento das personagens, embora a sua presença, interpondo-se entre o leitor e a história, seja sempre muito clara. Nessa categoria, tende ao sumário, mas o uso da cena é bastante freqüente para momentos de diálogo e ação.
Seguindo a classificação de Friedman, o “narrador testemunha” possui um ângulo de visão mais limitado. Narra em primeira pessoa e é interno à narrativa, vivendo os acontecimentos como personagem secundário e observando-os de dentro. Quando se está em busca da verdade, apela-se para o testemunho de alguém. Ele narra da periferia dos acontecimentos, não consegue saber o que se passa na cabeça do outros, apenas pode inferir, lançar hipóteses. Usa informações alheias, ou seja, coisas que viu ou ouviu, e até mesmo, de cartas ou documentos secretos que tenham ido cair em suas mãos.
A quarta categoria para Friedman seria o “narrador protagonista”, que funciona como personagem central, não tendo acesso ao estado mental das demais personagens. Narra em primeira pessoa, de um centro fixo, limitado às suas percepções, pensamentos e sentimentos.
A quinta categoria para Friedman seria de “onisciência seletiva múltipla”, não há propriamente narrador, funciona através das mentes das personagens. Há um predomínio quase absoluto da cena. Aqui o autor traduz detalhadamente os pensamentos, percepções e sentimentos, filtrados pela mente das personagens. A “onisciência seletiva”, é semelhante à múltipla, caracteriza-se apenas por revelar as percepções de uma só personagem (ponto de vista da personagem). O que predomina no caso da onisciência múltipla e da onisciência seletiva é o discurso indireto livre (pensamento da personagem). É o narrador encenando o processo mental das personagens. Não são usados aspas ou travessão para demonstrar esses pensamentos.
Além desses seis tipos de narrador, Friedman nos apresenta o “modo dramático” e o “câmera”, que não são propriamente narradores, pois no primeiro o ângulo é frontal e fixo, ou seja, se dá através da fala das personagens (diálogos), e, no segundo, se aproxima o foco de alguma coisa, transmitindo flashes de realidade, como se apanhados por uma câmera.
Publicado em: julho 16, 2007
http://pt.shvoong.com/humanities/theory-criticism/1631598-foco-narrativo/
ACESSO EM: 1/09/2010
RESUMO DO LIVRO "A CONFISSÃO DE LÚCIO"
Resumo do livro:
Em 1895, Lúcio vai estudar direito em Paris. Encontra outro português, que o apresenta a uma exótica mulher, a americana, e ao poeta Ricardo. Esta mulher dá uma festa indescritível de sensualidade a que comparecem os três rapazes portugueses. Um mês depois da festa a amizade de Ricardo e Lúcio está mais que consolidada. Gervásio some de cena. 1896 – Após dez meses de longos papos, Ricardo retorna inexplicavelmente a Portugal. Durante um ano escrevem-se cartas: Ricardo duas e Lúcio três. Em 1897, no mês de Dezembro, Lúcio também volta a Portugal e encontra o amigo casado com Marta, ou pelo menos vivendo com ela.
Durante vários meses freqüenta a casa do amigo e acaba tornando amante de Marta. Um dia descobre que ela tem outro amante, sente ciúmes: "aquele corpo esplêndido, triunfal, dava-se a três homens – três machos se estiraçavam sobre ele, a poluí-lo, a sugá-lo!... Três? Quem sabia se uma multidão? ... e ao mesmo tempo esta idéia me despedaçava, vinha-me um desejo perverso de que assim fosse... " Em 1899, enciumado, espiona a mulher e, com o marido (por acaso), vê quando ela entra na casa do russo. Torturado pelas emoções conflituosas, deixa Portugal e volta para Paris.
Em 1900, oempresário Santa-Cruz de Vilalva o encontra em Paris e pede para encenar sua peça. Lúcio deixa e, mais tarde, reescreve o final, levando-o a Portugal para mostrar ao empresário. Este não aceita o novo final, e Lúcio impede a montagem do espetáculo. Lúcio encontra Ricardo e o agride verbalmente. Ricardo confessa que mandava Marta possuir os amigos que ele amava. Vai até sua casa e atira em Marta, que desaparece, caindo ele próprio atingido pelo tiro. Lúcio é acusado pelo crime e vai preso. Aproximadamente 10 anos depois, porque não se esclarece o tempo de duração do processo, Lúcio termina de cumprir a pena e vai para um lugar retirado, no interior. Aí escreve a sua confissão que é datada de 1913, quando escreve sua história.
Em 1895, Lúcio vai estudar direito em Paris. Encontra outro português, que o apresenta a uma exótica mulher, a americana, e ao poeta Ricardo. Esta mulher dá uma festa indescritível de sensualidade a que comparecem os três rapazes portugueses. Um mês depois da festa a amizade de Ricardo e Lúcio está mais que consolidada. Gervásio some de cena. 1896 – Após dez meses de longos papos, Ricardo retorna inexplicavelmente a Portugal. Durante um ano escrevem-se cartas: Ricardo duas e Lúcio três. Em 1897, no mês de Dezembro, Lúcio também volta a Portugal e encontra o amigo casado com Marta, ou pelo menos vivendo com ela.
Durante vários meses freqüenta a casa do amigo e acaba tornando amante de Marta. Um dia descobre que ela tem outro amante, sente ciúmes: "aquele corpo esplêndido, triunfal, dava-se a três homens – três machos se estiraçavam sobre ele, a poluí-lo, a sugá-lo!... Três? Quem sabia se uma multidão? ... e ao mesmo tempo esta idéia me despedaçava, vinha-me um desejo perverso de que assim fosse... " Em 1899, enciumado, espiona a mulher e, com o marido (por acaso), vê quando ela entra na casa do russo. Torturado pelas emoções conflituosas, deixa Portugal e volta para Paris.
Em 1900, oempresário Santa-Cruz de Vilalva o encontra em Paris e pede para encenar sua peça. Lúcio deixa e, mais tarde, reescreve o final, levando-o a Portugal para mostrar ao empresário. Este não aceita o novo final, e Lúcio impede a montagem do espetáculo. Lúcio encontra Ricardo e o agride verbalmente. Ricardo confessa que mandava Marta possuir os amigos que ele amava. Vai até sua casa e atira em Marta, que desaparece, caindo ele próprio atingido pelo tiro. Lúcio é acusado pelo crime e vai preso. Aproximadamente 10 anos depois, porque não se esclarece o tempo de duração do processo, Lúcio termina de cumprir a pena e vai para um lugar retirado, no interior. Aí escreve a sua confissão que é datada de 1913, quando escreve sua história.
RESUMOS DO LIVRO "QUASE MEMÓRIA" DE CARLOS HEITOR CONY
QUASE MEMÓRIA – CARLOS HEITOR CONY
Uma tarde, o jornalista Carlos Heitor Cony recebe inesperadamente um envelope. Reparando bem, identifica no sobrescrito a letra do pai falecido havia dez anos. A visão do embrulho desata a memória, e tem início, assim, a cerimônia de reencontro de um filho com seu pai. De um simples pacote, ainda não aberto, saltam alguns sinais: a técnica de fazer o embrulho, a perfeição do nó no barbante, o formato da letra, a tinta roxa e certos cheiros (de alfazema, de brilhantina e de manga). Cada sinal trás de volta uma história inesperada do homem Ernesto Cony Filho, que possuía um formidável apetite de viver. Apetite que se manifestava nas maneiras de reinventar a vida com muito bom- humor , mesmo em momentos difíceis, quando perde o posto nas redações de jornais devido a reviravoltas na política brasileira. Nem quando Carlos Heitor Cony esteve no Seminário houve separação e ausência. O pai dava um jeito de aparecer, sempre inesperadamente, no meio de cerimônias públicas para entregar ao menino Cony um sanduíche de presunto, um prato com deliciosa comida de botequim. Para quem viver era mais importante que ganhar dinheiro, os sonhos eram fundamentais: uma viagem à Itália, para estabelecer contatos promocionais entre uma estação de águas medicinais e o Brasil, ficou pela metade, mas era contada para sempre como se tivesse acontecido, com os detalhes precisos, com entusiasmo e convicção. No quase - romance , pequenos gestos ganham dimensão de grande aventura e poesia: separar papéis de seda de várias cores, fazer balões, soltar balões, recolher o balão que volta à casa em que foi construído. Cruzando os céus e o tempo, os balões são o símbolo da mais forte e definitiva relação entre dois homens - pai e filho. O escritor Carlos Heitor Cony, carioca, nascido em 1926, é um grande nome da literatura brasileira da atualidade. Com este romance, que ganhou o prêmio Jabuti em 1996, rompe com a tradição dos memorialistas brasileiros para quem escrever sobre o passado é uma forma de fazer um acerto de contas com a família, de se vingar de pessoas que ficaram pelo caminho. A memória, quando é quase - memória , não se apresenta como testemunha da história, nem como escrita do ressentimento. Torna-se, principalmente, uma maneira de se expressar a alegria de lembrar do passado, além de reafirmar cumplicidades definitivas, como a criada com o homem que nos toma pela mão e nos leva para o mundo, o nosso pai.
Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.
Primeiro Capítulo: Quase Memória | Carlos Heitor Cony
Livro: Quase Memória
Brasil | World
- 1º Capítulo -
O dia: 28 de novembro de 1995. A hora: aproximadamente vinte, talvez quinze para a uma da tarde. O local: a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado, no Flamengo.
Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos, descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall da recepção. Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos, uma passagem.
Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me avisou: um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de aros grossos, queria falar comigo. E sabia o meu nome –eu que nunca fora hóspede do hotel, apenas um freqüentador mais ou menos regular do restaurante que é aberto a todos.
Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado. Ainda mais pelo nome: não haveria uma hipótese passável para que soubessem meu nome.
- Sim…
O porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta embaixo do balcão e de lá retirou o embrulho, que parecia um envelope médio, gordo, amarrado por barbante ordinário.
- Um hóspede esteve aqui no último fim de semana, perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos este envelope…
- Sim… sim…
Eu não sabia se examinava o envelope ou a cara do porteiro. Nada fizera para que ele soubesse meu nome, para que pudesse dizer a alguém que me conhecia. O fato de duas ou três vezes por semana eu almoçar no restaurante do hotel não lhe daria esse direito.
Quanto ao envelope gordo, pelo volume e peso suspeitei que continha um livro, faz parte da minha rotina receber esses envelopes, escritores de província pedindo-me a opinião ou o prefácio, que geralmente recuso dar ou fazer.
- Deixou o nome? –perguntei, para perguntar alguma coisa.
- Bem… o nome dele está em nossa lista de hóspedes, é do interior de São Paulo, mas… infelizmente, não costumamos dar o nome de nossos hóspedes a não ser em casos especiais…
Passou-me o envelope, que era, à primeira vista e ao primeiro contato, aquilo que eu desconfiava: os originais de um livro, contos, romance ou poesias, talvez história ou ensaio.
- Está certo… não terei de agradecer… a menos que o nome e o endereço do interessado estejam…
Foi então que olhei bem o embrulho. A princípio apenas suspeitei. E ficaria na suspeita se não houvesse certeza. Uma das faces estava subscritada, meu nome em letras grandes e a informação logo embaixo, sublinhada pelo traço inconfundível: “Para o jornalista Carlos Heitor Cony. Em mão”.
Era a letra de meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o revelava, inteiro, total. Só ele faria aquelas dobras no papel, só ele daria aquele nó no barbante ordinário, só ele escreveria meu nome daquela maneira, acrescentando a função que também fora a sua. Sobretudo, só ele destacaria o fato de alguém ter se prestado a me trazer aquele embrulho. Ele detestava o correio normal, mas se alguém o avisava que ia a algum lugar, logo encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém por intermédio do portador.
Desencavava um amigo ou conhecido em qualquer lugar do mundo. Bastava que alguém comunicasse: “Vou à Bulgária”, ou “Vou a Juiz de Fora”, ele logo descobria alguém a quem mandar alguma coisa, fosse na Bulgária, fosse em Juiz de Fora.
Até mesmo o cheiro –pois o envelope tinha um cheiro– era o cheiro dele, de fumo e água de alfazema que gostava de usar, metade por vaidade, metade por acreditar que a alfazema cortava o mau-olhado, do qual tinha hereditário horror.
Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava: ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros.
Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos –como já disse– em novembro de 1995. E o pai morrera, aos noventa e um anos, no dia 14 de janeiro de 1985.
Agradeci a gentileza do porteiro, sem esforço consegui que nem ele nem os acompanhantes adivinhassem o meu espanto. Mas sentia um calor estranho, a cabeça latejando, sentia até mesmo um início de suor na testa.
A rigor, nem precisaria abrir o embrulho para saber quem o enviava. Era ele, ele mais uma vez e sempre, querendo ser útil e necessário, querendo agradar mas conseguindo apenas embaralhar meu caminho –e digo “embaralhar meu caminho” para ser isento comigo e delicado à sua memória.
Não tive pressa em abrir o pacote. Durante algum tempo fiquei com ele, passando-o da mão esquerda para a direita. Alguém me contava o fim do filme que assistira na véspera –o que me poupou qualquer comentário ou alusão ao embrulho. Queria apenas ficar sozinho, não exatamente para abrir o envelope, mas para pensar no assunto, embora se tratasse de assunto impensável.
Só mais tarde, sozinho em minha sala, comecei a celebrar a cerimônia estranha, absurda e, pela lógica das coisas, ilógica.
Afastei papéis, embuti o teclado do micro no seu estojo. Antes de mais nada, eu precisava de espaço físico e interior. No mais, eu nem precisava abrir o pacote. Ele já cumprira sua missão, de forma inesperada e, de algum modo, brutal. O que quer que houvesse lá dentro, pouco importava.
Por isso mesmo, não tive pressa em abri-lo. Olhava o embrulho sem curiosidade e, agora, sem susto. Conhecendo o pai como o conhecia, eu não devia estar admirado de ter recebido aquilo. Onde quer que estivesse e como estivesse, ele daria um jeito de se fazer sentir, de estar presente. Até fiquei com raiva por não ter previsto que, um dia, mais cedo ou mais tarde, sem mais nem menos, esbarraria com ele novamente, sob um disfarce ou pretexto qualquer. Imaginava apenas que esse disfarce seria um desses que se permitem aos mortos, uma lembrança mais vívida ou vivida, uma paisagem, um tom de voz, algumas palavras especiais que ele usava, “troféu”, por exemplo, para designar um martelo, um canivete, um pé de sapato, um livro, um pedaço de carne assada, uma coisa qualquer que ele queria ou precisava e cujo nome momentaneamente esquecera.
Olhava o envelope à minha frente, o barbante ordinário bem ajustado –ele fazia essas pequenas coisas com perícia, ou melhor, com “técnica”, que por sinal era outra de suas palavras com significado especial.
Colocava solenidade nas coisas, fosse apanhar um objeto do chão, fosse fazer a barba ou um balão, tudo demandava uma técnica que só ele sabia, ou, pelo menos, só ele aperfeiçoara ao ponto ótimo para uso próprio.
Pois o barbante, em si, já era um indício dele. O nó também: exato, sólido, bem no centro do pacote. Se tudo era ele no papel, no barbante e no nó, havia a letra. Fosse eu cego, mergulhado na treva mais profunda da carne, bastaria passar a mão sobre ela para saber que era a letra dele.
A mesma letra que vinha nos envelopes quando ele me escrevia para a fazenda do Seminário –único período do ano em que a correspondência se justificava, pois aqui no Rio ele sempre tinha uma técnica de estar presente nos mais estranhos lugares e momentos, fosse para me dar recados, presentes ou para saber de mim e eu dele.
A fazenda dos padres, em Itaipava, chamava-se São Joaquim da Arca. São Joaquim porque era o santo onomástico do antigo cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, dom Joaquim Arcoverde. Da Arca porque a região, entre Itaipava e Teresópolis, banhada pelo rio Santo Antônio, era conhecida como “Arcas”.
Mil vezes eu explicara isso ao pai. Mas ele ou se esquecia ou preferia adotar a própria técnica de dizer ou nomear as coisas. Colocava nos envelopes, em letras bem desenhadas e nítidas, fazenda são joaquim d’arc, como se houvesse um santo a mais na família da heroína francesa.
No início, eu sentia vergonha quando o reitor, monsenhor Lapenda, entregava a correspondência dos alunos. Todos os pais, mães, tios e primos dos meus colegas colocavam o nome correto nos envelopes. Meu pai era o único que complicava, monsenhor Lapenda por diversas vezes pediu que eu o corrigisse, depois se habituou –e eu também.
Bem verdade que cheguei a lhe escrever uma longa e esclarecedora carta explicando o nome de nossa fazenda. Não adiantou. Preferi não criar atrito com ele por tão pouco.
Muitos anos mais tarde, depois de um almoço dominical em minha casa –eu já estava casado com minha primeira mulher– fui descansar no gabinete e ouvi o pai explicando para o meu sogro quem fora e o que fizera Joaquim d’Arc, um ser extraordinário, irmão de Joana, também herói e também santo, cujas proezas requisitavam uma guerra não de trinta, de cem mas de duzentos anos para poderem ter acontecido.
Desta vez, ele se limitara a colocar apenas o meu nome. Em geral, quando postava cartas ou embrulhos, gostava de ser prolixo nos endereços. Temendo, com razão ou sem ela, a incompetência ou a leviandade dos Correios (por princípio, ele descria dos serviços públicos existentes em seu tempo), obrigava-se a ser claro e completo na hora de colocar nome, qualificações, endereço e demais contornos do destinatário.
Não abria mão do direito de proclamar os títulos da pessoa que deveria receber a carta ou o embrulho. Um só não bastava. Quando escrevia para o cunhado e compadre Joaquim Pinto Montenegro, em Rodeio, no antigo estado do Rio, ele nomeava tudo o que sabia a respeito de Joaquim Pinto Montenegro:
Ao diretor-chefe, provedor e bacharel
Joaquim Pinto Montenegro
Bem verdade que Joaquim Pinto Montenegro não era provedor de nada, tampouco diretor-chefe mas simples subchefe de seção na Divisão de Dormentes da Central do Brasil. Muito menos bacharel de coisa alguma, pelo contrário, era de poucas mas suficientes letras, o próprio pai se referia a ele com ironia quando recebia as respostas:
- O Montenegro mistura os pronomes e nunca acerta as concordâncias!
Além de ser explícito nos títulos do destinatário, o pai era completo no que se referia a endereços. Quis o destino que tivéssemos uma tia que morava no Uruguai, aliás, não era tia dele mas de minha mãe.
Para falar a verdade, nunca vi carta escrita por ele para ela, mas acontece que essa tia, milionária e carola, decidiu pagar meus estudos no Seminário –o que motivou complicadíssima correspondência entre as partes, quer dizer, eu e ela, ou melhor, o procurador dela em Montevidéu, e o pai, que legal e funcionalmente operou como meu procurador.
Alzira Carvajal Molina era viúva de um tio-avô de minha mãe, oficial da marinha que numa viagem pelo Rio da Prata conheceu a herdeira de um estancieiro em Duraznos. A fortuna do estancieiro aumentou com o tempo e com a imaginação do meu pai. Alzira era filha única, ficou dona de fazendas, frigoríficos, prédios e navios que levavam carne dos pampas para a Europa.
Só a enumeração da riqueza dessa tia deixava o pai sem fôlego. Hoje, olhando tudo em conjunto, acho que do mesmo conjunto fazia parte o seu habitual exagero. Deduzindo metade, ou mais do que metade, ainda sobrava dinheiro para fazer de tia Alzira um mito em nossa casa –mito que se materializou quando ela soube que eu ia entrar para o Seminário e, por intermédio de seu citado procurador, revelou interesse em me pagar estudos, livros em latim, batinas feitas em Roma: tudo o que necessário fosse para ter um padre na família.
Talvez eu não tenha dado grandes alegrias ao pai. Em todo o caso, dei-lhe instantes de glória quando, depois de ditar para mim o que eu deveria dizer ou agradecer a tia Alzira, ele próprio se encarregava de subscritar o envelope, tarefa que achava importante demais para ser realizada por um menino que ainda não sabia o que era e do que constava o mundo.
Tal como no caso da Fazenda São Joaquim d’Arc, ele complicava o que já era complicado. Além do nome da tia (Alzira Carvajal Molina) e dos “excelentíssimas”, “preclaras” e “bondosas senhoras” que antecediam o nome, ele se esparramava nas indicações do endereço, que devia ser naturalmente confuso.
Tinha razões para também suspeitar dos carteiros do Uruguai e colocava tudo o que pudesse facilitar a localização da destinatária.
Como ele próprio nunca entendeu direito as indicações fornecidas pelo procurador da tia Alzira, levo em conta das coisas fantásticas que presenciei neste mundo o fato de as cartas terem chegado –se não todas, algumas– a habitación no 1352 –79 Calle Yi– Ayuntamiento 14 –Provincia Mayor de Sarmiento– Playa Pocitos –Ciudad de Montevideo– Republica Oriental del Plata –Uruguai– América del Sud.
É possível (ou melhor, é quase certo) que tantas e tais indicações estejam incorretas e até mesmo incompletas –o que meu pai muito lamentaria e reprovaria na carta seguinte que escrevesse ao procurador de tia Alzira.
Anos depois, já então casado com minha segunda mulher, estive em Montevidéu. Fui visitar não a tia, que já havia falecido na suposição de que teria um sobrinho-padre a dizer-lhe missa todos os dias, mas minha prima Júlia Alice, filha dela. Morava nesse mesmo e complicadíssimo endereço.
Foi com assombro que, ao tomar o táxi (um dos velhos Mercedes-Benz que proliferavam na capital uruguaia daquele tempo), bastou dizer: “Cape Yi” e o motorista prontamente entendeu tudo. Pouco depois me deixava diante de uma vasta mansão que, somente ela, daria para levar ao delírio os delírios de meu pai.
Era o estilo dele. Daí a minha inicial surpresa ao contemplar a economia literal do envelope a mim destinado. Apenas a indicação do ofício mais óbvio (jornalista), meu nome e nada mais. De duas uma: ou achou que o filho, nos dez anos em que ele esteve ausente, houvesse atingido grau de fama suficiente para desprezar pormenores de rua e bairro, ou, com a sabedoria adquirida no lugar onde agora está, aprendeu que o que é do homem o bicho não come.
Botando o nome do filho no envelope, mais cedo ou mais tarde, como no caso dos bilhetes que os náufragos colocam em garrafas, a mensagem chegaria a algum destino.
Outro detalhe revelava que o pai, apesar de continuar essencialmente o mesmo, fazia agora concessões à boa vontade da humanidade em geral. Nunca enviaria carta ou pacote a quem quer que fosse por intermédio de terceira pessoa sem que ele explicitasse convenientemente o portador.
A novidade era aquele “Em mão”. A fórmula preferencial que usava sempre fora o “Por especial favor”. Quando, por qualquer motivo, menosprezava o destinatário ou o portador, limitava-se às iniciais: “P.E.F.”. Mas tanto num caso como no outro jamais dispensaria títulos, funções, nomes e apelidos do portador.
Lembro de ter recebido em Paris, quando lá fiquei indevido tempo, um pacote com mangas carlotinhas que ele me mandou por intermédio de um amigo que tinha o apelido de “Caveirinha”. Pois lá estava no envelope que arrematava o embrulho: “Por Especial Favor do Desembargador, Professor e Bacharel João de Deus Falcão, o Caveirinha”.
Agora, além da escassez de informações a respeito do filho, havia parcimônia nas qualificações do portador, aliás, nem chegava a haver um portador específico. Ele devia ter feito o pacote antes de ter um portador determinado. Por isso se limitara ao sucinto mas bastante “Em mão”.
Uma tarde, o jornalista Carlos Heitor Cony recebe inesperadamente um envelope. Reparando bem, identifica no sobrescrito a letra do pai falecido havia dez anos. A visão do embrulho desata a memória, e tem início, assim, a cerimônia de reencontro de um filho com seu pai. De um simples pacote, ainda não aberto, saltam alguns sinais: a técnica de fazer o embrulho, a perfeição do nó no barbante, o formato da letra, a tinta roxa e certos cheiros (de alfazema, de brilhantina e de manga). Cada sinal trás de volta uma história inesperada do homem Ernesto Cony Filho, que possuía um formidável apetite de viver. Apetite que se manifestava nas maneiras de reinventar a vida com muito bom- humor , mesmo em momentos difíceis, quando perde o posto nas redações de jornais devido a reviravoltas na política brasileira. Nem quando Carlos Heitor Cony esteve no Seminário houve separação e ausência. O pai dava um jeito de aparecer, sempre inesperadamente, no meio de cerimônias públicas para entregar ao menino Cony um sanduíche de presunto, um prato com deliciosa comida de botequim. Para quem viver era mais importante que ganhar dinheiro, os sonhos eram fundamentais: uma viagem à Itália, para estabelecer contatos promocionais entre uma estação de águas medicinais e o Brasil, ficou pela metade, mas era contada para sempre como se tivesse acontecido, com os detalhes precisos, com entusiasmo e convicção. No quase - romance , pequenos gestos ganham dimensão de grande aventura e poesia: separar papéis de seda de várias cores, fazer balões, soltar balões, recolher o balão que volta à casa em que foi construído. Cruzando os céus e o tempo, os balões são o símbolo da mais forte e definitiva relação entre dois homens - pai e filho. O escritor Carlos Heitor Cony, carioca, nascido em 1926, é um grande nome da literatura brasileira da atualidade. Com este romance, que ganhou o prêmio Jabuti em 1996, rompe com a tradição dos memorialistas brasileiros para quem escrever sobre o passado é uma forma de fazer um acerto de contas com a família, de se vingar de pessoas que ficaram pelo caminho. A memória, quando é quase - memória , não se apresenta como testemunha da história, nem como escrita do ressentimento. Torna-se, principalmente, uma maneira de se expressar a alegria de lembrar do passado, além de reafirmar cumplicidades definitivas, como a criada com o homem que nos toma pela mão e nos leva para o mundo, o nosso pai.
Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.Um grande sucesso de Carlos Heitor Cony, que bota a si próprio em um
incrível romance, ou como ele mesmo se refere um "quase romance". Um
livro que te prende do começo até o final, contando lembranças a muito
tempo esquecidas de Cony e seu falecido pai.
Primeiro Capítulo: Quase Memória | Carlos Heitor Cony
Livro: Quase Memória
Brasil | World
- 1º Capítulo -
O dia: 28 de novembro de 1995. A hora: aproximadamente vinte, talvez quinze para a uma da tarde. O local: a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado, no Flamengo.
Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos, descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao hall da recepção. Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos, uma passagem.
Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me avisou: um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de aros grossos, queria falar comigo. E sabia o meu nome –eu que nunca fora hóspede do hotel, apenas um freqüentador mais ou menos regular do restaurante que é aberto a todos.
Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado. Ainda mais pelo nome: não haveria uma hipótese passável para que soubessem meu nome.
- Sim…
O porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta embaixo do balcão e de lá retirou o embrulho, que parecia um envelope médio, gordo, amarrado por barbante ordinário.
- Um hóspede esteve aqui no último fim de semana, perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos este envelope…
- Sim… sim…
Eu não sabia se examinava o envelope ou a cara do porteiro. Nada fizera para que ele soubesse meu nome, para que pudesse dizer a alguém que me conhecia. O fato de duas ou três vezes por semana eu almoçar no restaurante do hotel não lhe daria esse direito.
Quanto ao envelope gordo, pelo volume e peso suspeitei que continha um livro, faz parte da minha rotina receber esses envelopes, escritores de província pedindo-me a opinião ou o prefácio, que geralmente recuso dar ou fazer.
- Deixou o nome? –perguntei, para perguntar alguma coisa.
- Bem… o nome dele está em nossa lista de hóspedes, é do interior de São Paulo, mas… infelizmente, não costumamos dar o nome de nossos hóspedes a não ser em casos especiais…
Passou-me o envelope, que era, à primeira vista e ao primeiro contato, aquilo que eu desconfiava: os originais de um livro, contos, romance ou poesias, talvez história ou ensaio.
- Está certo… não terei de agradecer… a menos que o nome e o endereço do interessado estejam…
Foi então que olhei bem o embrulho. A princípio apenas suspeitei. E ficaria na suspeita se não houvesse certeza. Uma das faces estava subscritada, meu nome em letras grandes e a informação logo embaixo, sublinhada pelo traço inconfundível: “Para o jornalista Carlos Heitor Cony. Em mão”.
Era a letra de meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o revelava, inteiro, total. Só ele faria aquelas dobras no papel, só ele daria aquele nó no barbante ordinário, só ele escreveria meu nome daquela maneira, acrescentando a função que também fora a sua. Sobretudo, só ele destacaria o fato de alguém ter se prestado a me trazer aquele embrulho. Ele detestava o correio normal, mas se alguém o avisava que ia a algum lugar, logo encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém por intermédio do portador.
Desencavava um amigo ou conhecido em qualquer lugar do mundo. Bastava que alguém comunicasse: “Vou à Bulgária”, ou “Vou a Juiz de Fora”, ele logo descobria alguém a quem mandar alguma coisa, fosse na Bulgária, fosse em Juiz de Fora.
Até mesmo o cheiro –pois o envelope tinha um cheiro– era o cheiro dele, de fumo e água de alfazema que gostava de usar, metade por vaidade, metade por acreditar que a alfazema cortava o mau-olhado, do qual tinha hereditário horror.
Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava: ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros.
Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos –como já disse– em novembro de 1995. E o pai morrera, aos noventa e um anos, no dia 14 de janeiro de 1985.
Agradeci a gentileza do porteiro, sem esforço consegui que nem ele nem os acompanhantes adivinhassem o meu espanto. Mas sentia um calor estranho, a cabeça latejando, sentia até mesmo um início de suor na testa.
A rigor, nem precisaria abrir o embrulho para saber quem o enviava. Era ele, ele mais uma vez e sempre, querendo ser útil e necessário, querendo agradar mas conseguindo apenas embaralhar meu caminho –e digo “embaralhar meu caminho” para ser isento comigo e delicado à sua memória.
Não tive pressa em abrir o pacote. Durante algum tempo fiquei com ele, passando-o da mão esquerda para a direita. Alguém me contava o fim do filme que assistira na véspera –o que me poupou qualquer comentário ou alusão ao embrulho. Queria apenas ficar sozinho, não exatamente para abrir o envelope, mas para pensar no assunto, embora se tratasse de assunto impensável.
Só mais tarde, sozinho em minha sala, comecei a celebrar a cerimônia estranha, absurda e, pela lógica das coisas, ilógica.
Afastei papéis, embuti o teclado do micro no seu estojo. Antes de mais nada, eu precisava de espaço físico e interior. No mais, eu nem precisava abrir o pacote. Ele já cumprira sua missão, de forma inesperada e, de algum modo, brutal. O que quer que houvesse lá dentro, pouco importava.
Por isso mesmo, não tive pressa em abri-lo. Olhava o embrulho sem curiosidade e, agora, sem susto. Conhecendo o pai como o conhecia, eu não devia estar admirado de ter recebido aquilo. Onde quer que estivesse e como estivesse, ele daria um jeito de se fazer sentir, de estar presente. Até fiquei com raiva por não ter previsto que, um dia, mais cedo ou mais tarde, sem mais nem menos, esbarraria com ele novamente, sob um disfarce ou pretexto qualquer. Imaginava apenas que esse disfarce seria um desses que se permitem aos mortos, uma lembrança mais vívida ou vivida, uma paisagem, um tom de voz, algumas palavras especiais que ele usava, “troféu”, por exemplo, para designar um martelo, um canivete, um pé de sapato, um livro, um pedaço de carne assada, uma coisa qualquer que ele queria ou precisava e cujo nome momentaneamente esquecera.
Olhava o envelope à minha frente, o barbante ordinário bem ajustado –ele fazia essas pequenas coisas com perícia, ou melhor, com “técnica”, que por sinal era outra de suas palavras com significado especial.
Colocava solenidade nas coisas, fosse apanhar um objeto do chão, fosse fazer a barba ou um balão, tudo demandava uma técnica que só ele sabia, ou, pelo menos, só ele aperfeiçoara ao ponto ótimo para uso próprio.
Pois o barbante, em si, já era um indício dele. O nó também: exato, sólido, bem no centro do pacote. Se tudo era ele no papel, no barbante e no nó, havia a letra. Fosse eu cego, mergulhado na treva mais profunda da carne, bastaria passar a mão sobre ela para saber que era a letra dele.
A mesma letra que vinha nos envelopes quando ele me escrevia para a fazenda do Seminário –único período do ano em que a correspondência se justificava, pois aqui no Rio ele sempre tinha uma técnica de estar presente nos mais estranhos lugares e momentos, fosse para me dar recados, presentes ou para saber de mim e eu dele.
A fazenda dos padres, em Itaipava, chamava-se São Joaquim da Arca. São Joaquim porque era o santo onomástico do antigo cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, dom Joaquim Arcoverde. Da Arca porque a região, entre Itaipava e Teresópolis, banhada pelo rio Santo Antônio, era conhecida como “Arcas”.
Mil vezes eu explicara isso ao pai. Mas ele ou se esquecia ou preferia adotar a própria técnica de dizer ou nomear as coisas. Colocava nos envelopes, em letras bem desenhadas e nítidas, fazenda são joaquim d’arc, como se houvesse um santo a mais na família da heroína francesa.
No início, eu sentia vergonha quando o reitor, monsenhor Lapenda, entregava a correspondência dos alunos. Todos os pais, mães, tios e primos dos meus colegas colocavam o nome correto nos envelopes. Meu pai era o único que complicava, monsenhor Lapenda por diversas vezes pediu que eu o corrigisse, depois se habituou –e eu também.
Bem verdade que cheguei a lhe escrever uma longa e esclarecedora carta explicando o nome de nossa fazenda. Não adiantou. Preferi não criar atrito com ele por tão pouco.
Muitos anos mais tarde, depois de um almoço dominical em minha casa –eu já estava casado com minha primeira mulher– fui descansar no gabinete e ouvi o pai explicando para o meu sogro quem fora e o que fizera Joaquim d’Arc, um ser extraordinário, irmão de Joana, também herói e também santo, cujas proezas requisitavam uma guerra não de trinta, de cem mas de duzentos anos para poderem ter acontecido.
Desta vez, ele se limitara a colocar apenas o meu nome. Em geral, quando postava cartas ou embrulhos, gostava de ser prolixo nos endereços. Temendo, com razão ou sem ela, a incompetência ou a leviandade dos Correios (por princípio, ele descria dos serviços públicos existentes em seu tempo), obrigava-se a ser claro e completo na hora de colocar nome, qualificações, endereço e demais contornos do destinatário.
Não abria mão do direito de proclamar os títulos da pessoa que deveria receber a carta ou o embrulho. Um só não bastava. Quando escrevia para o cunhado e compadre Joaquim Pinto Montenegro, em Rodeio, no antigo estado do Rio, ele nomeava tudo o que sabia a respeito de Joaquim Pinto Montenegro:
Ao diretor-chefe, provedor e bacharel
Joaquim Pinto Montenegro
Bem verdade que Joaquim Pinto Montenegro não era provedor de nada, tampouco diretor-chefe mas simples subchefe de seção na Divisão de Dormentes da Central do Brasil. Muito menos bacharel de coisa alguma, pelo contrário, era de poucas mas suficientes letras, o próprio pai se referia a ele com ironia quando recebia as respostas:
- O Montenegro mistura os pronomes e nunca acerta as concordâncias!
Além de ser explícito nos títulos do destinatário, o pai era completo no que se referia a endereços. Quis o destino que tivéssemos uma tia que morava no Uruguai, aliás, não era tia dele mas de minha mãe.
Para falar a verdade, nunca vi carta escrita por ele para ela, mas acontece que essa tia, milionária e carola, decidiu pagar meus estudos no Seminário –o que motivou complicadíssima correspondência entre as partes, quer dizer, eu e ela, ou melhor, o procurador dela em Montevidéu, e o pai, que legal e funcionalmente operou como meu procurador.
Alzira Carvajal Molina era viúva de um tio-avô de minha mãe, oficial da marinha que numa viagem pelo Rio da Prata conheceu a herdeira de um estancieiro em Duraznos. A fortuna do estancieiro aumentou com o tempo e com a imaginação do meu pai. Alzira era filha única, ficou dona de fazendas, frigoríficos, prédios e navios que levavam carne dos pampas para a Europa.
Só a enumeração da riqueza dessa tia deixava o pai sem fôlego. Hoje, olhando tudo em conjunto, acho que do mesmo conjunto fazia parte o seu habitual exagero. Deduzindo metade, ou mais do que metade, ainda sobrava dinheiro para fazer de tia Alzira um mito em nossa casa –mito que se materializou quando ela soube que eu ia entrar para o Seminário e, por intermédio de seu citado procurador, revelou interesse em me pagar estudos, livros em latim, batinas feitas em Roma: tudo o que necessário fosse para ter um padre na família.
Talvez eu não tenha dado grandes alegrias ao pai. Em todo o caso, dei-lhe instantes de glória quando, depois de ditar para mim o que eu deveria dizer ou agradecer a tia Alzira, ele próprio se encarregava de subscritar o envelope, tarefa que achava importante demais para ser realizada por um menino que ainda não sabia o que era e do que constava o mundo.
Tal como no caso da Fazenda São Joaquim d’Arc, ele complicava o que já era complicado. Além do nome da tia (Alzira Carvajal Molina) e dos “excelentíssimas”, “preclaras” e “bondosas senhoras” que antecediam o nome, ele se esparramava nas indicações do endereço, que devia ser naturalmente confuso.
Tinha razões para também suspeitar dos carteiros do Uruguai e colocava tudo o que pudesse facilitar a localização da destinatária.
Como ele próprio nunca entendeu direito as indicações fornecidas pelo procurador da tia Alzira, levo em conta das coisas fantásticas que presenciei neste mundo o fato de as cartas terem chegado –se não todas, algumas– a habitación no 1352 –79 Calle Yi– Ayuntamiento 14 –Provincia Mayor de Sarmiento– Playa Pocitos –Ciudad de Montevideo– Republica Oriental del Plata –Uruguai– América del Sud.
É possível (ou melhor, é quase certo) que tantas e tais indicações estejam incorretas e até mesmo incompletas –o que meu pai muito lamentaria e reprovaria na carta seguinte que escrevesse ao procurador de tia Alzira.
Anos depois, já então casado com minha segunda mulher, estive em Montevidéu. Fui visitar não a tia, que já havia falecido na suposição de que teria um sobrinho-padre a dizer-lhe missa todos os dias, mas minha prima Júlia Alice, filha dela. Morava nesse mesmo e complicadíssimo endereço.
Foi com assombro que, ao tomar o táxi (um dos velhos Mercedes-Benz que proliferavam na capital uruguaia daquele tempo), bastou dizer: “Cape Yi” e o motorista prontamente entendeu tudo. Pouco depois me deixava diante de uma vasta mansão que, somente ela, daria para levar ao delírio os delírios de meu pai.
Era o estilo dele. Daí a minha inicial surpresa ao contemplar a economia literal do envelope a mim destinado. Apenas a indicação do ofício mais óbvio (jornalista), meu nome e nada mais. De duas uma: ou achou que o filho, nos dez anos em que ele esteve ausente, houvesse atingido grau de fama suficiente para desprezar pormenores de rua e bairro, ou, com a sabedoria adquirida no lugar onde agora está, aprendeu que o que é do homem o bicho não come.
Botando o nome do filho no envelope, mais cedo ou mais tarde, como no caso dos bilhetes que os náufragos colocam em garrafas, a mensagem chegaria a algum destino.
Outro detalhe revelava que o pai, apesar de continuar essencialmente o mesmo, fazia agora concessões à boa vontade da humanidade em geral. Nunca enviaria carta ou pacote a quem quer que fosse por intermédio de terceira pessoa sem que ele explicitasse convenientemente o portador.
A novidade era aquele “Em mão”. A fórmula preferencial que usava sempre fora o “Por especial favor”. Quando, por qualquer motivo, menosprezava o destinatário ou o portador, limitava-se às iniciais: “P.E.F.”. Mas tanto num caso como no outro jamais dispensaria títulos, funções, nomes e apelidos do portador.
Lembro de ter recebido em Paris, quando lá fiquei indevido tempo, um pacote com mangas carlotinhas que ele me mandou por intermédio de um amigo que tinha o apelido de “Caveirinha”. Pois lá estava no envelope que arrematava o embrulho: “Por Especial Favor do Desembargador, Professor e Bacharel João de Deus Falcão, o Caveirinha”.
Agora, além da escassez de informações a respeito do filho, havia parcimônia nas qualificações do portador, aliás, nem chegava a haver um portador específico. Ele devia ter feito o pacote antes de ter um portador determinado. Por isso se limitara ao sucinto mas bastante “Em mão”.
RESUMO DO LIVRO "O REI DA VELA" DE OSWALD DE ANDRADE
O REI DA VELA – OSWALD DE ANDRADE
Escrita em 1933 e publicada em 1937, O Rei da Vela constitui-se no texto teatral mais importante de Oswald de Andrade. A peça demorou trinta anos para ser apresentada em São Paulo, pelo Grupo Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Correa; a encenação marcou época na história do teatro brasileiro .
As personagens principais têm os nomes de dois famosos amantes da Idade Média: Abelardo e Heloísa. Ele, um teólogo francês do século XII; ela, sobrinha de um sacerdote. Pouco têm a ver, portanto, com as personagens oswaldianas. Nesse sentido, o autor usa os nomes de modo paródico, uma vez que Abelardo I se une a Heloísa por puro interesse: é um agiota, que vive da exploração dos outros, cujos devedores se apresentam, na peça, dentro de uma jaula. Heloísa de Lesbos pertence à aristocracia rural brasileira, falida e em decadência. Deste modo, o sentido romântico do texto original fica totalmente subvertido pela moderna intepretação de Oswald de Andrade.
Abelardo I é um representante da burguesia ascendente da época. Seu oportunismo, aliado à crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, permite-lhe todo tipo de especulação: com o café, com a indústria, etc. Sua caracterização como o "Rei da Vela" é extremamente irônica e significativa: ele fabrica e vende velas, pois "As empresas elétricas fecharam com a crise. Ninguém mais pode pagar o preço da luz". Também é costume popular colocar uma vela na mão de cada defunto, assim Abelardo I "herda um tostão de cada morto nacional". Abelardo torna-se então o símbolo da exploração, à custa da pobreza e das superstições populares. Como personagem, ele também denuncia a invasão do capital estrangeiro; dai a irônica consideração sobre "a chave milagrosa da fortuna, uma chave yale".
Heloísa representa a ruína da classe fazendeira. Seu pai, coronel latifundiário, vai à falência, num retrato em que predomina a perversão e o vício, símbolos de uma classe social em decadência. A aliança de Abelardo e Heloisa pode, assim, representar a fusão de duas classes sociais corruptas pelo sistema capitalista.
Uma terceira personagem vem a completar o quadro social do Brasil da época: Mr. Jones, que simboliza o capital americano; sua presença revela um país endividado: "Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo o que temos e o que não temos. Hipotecamos palmeiras quedas de águas. Cardeais!"O Rei da Vela”, obra representativa da década de 30, marca uma época de preocupações e compromissos sociais.
Escrita em 1933 e publicada em 1937, em tres atos, O Rei da Vela constitui- se no texto teatral mais importante de Oswald de Andrade. A Peça demorou trinta anos para ser apresentada em São Paulo, pelo Grupo Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Correa; a encenação marcou época na história do teatro brasileiro. As protagonistas Abelardo I e Heloisa, da tradição medieval. Abelardo I é um representante da burguesia ascendente da época. Seu oportunismo, aliado à crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque, de 1929, permite- lhe todo tipo de especulação:'com o café , com a indústria etc. Sua caracterização como o "Rei da Vela"é extremamente irônica e significativa: ele fabrica e vende velas, pois "As empresas elétricas da luz". Também é costume popular colocar uma vela na mão de cada defundo, assim Abelardo I "herda um tostão de cada morto nacional". Abelardo torna - se então o símbolo da exploração, à custa da pobreza e das superstições populares. Como personagem, ele também denuncia a invasão do capital estrangeiro; daí a irônica consideração sobre "a chave milagrosa da fortuna, uma chave vale" . Seus devedores se apresentam , na peça , dentro de uma jaula. Heloísa representa a ruína da classe fazendeira. Seu pai , coronel latifundiário, vai à falência, num retrato em que predomina a perversão e o vício, símbolos de uma classe social em decadência. A aliança de Abelardo e Heloísa pode assim, representar a fusão de duas classes sociais corruptas pelo sistema capitalista. Uma terceira personagem vem a completar o quadro social do Brasil da época: Mr Jones, que simboliza o capital americano; sua presença revela um país endividado: "Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo o que temos e o que não temos.
Escrita em 1933 e publicada em 1937, O Rei da Vela constitui-se no texto teatral mais importante de Oswald de Andrade. A peça demorou trinta anos para ser apresentada em São Paulo, pelo Grupo Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Correa; a encenação marcou época na história do teatro brasileiro .
As personagens principais têm os nomes de dois famosos amantes da Idade Média: Abelardo e Heloísa. Ele, um teólogo francês do século XII; ela, sobrinha de um sacerdote. Pouco têm a ver, portanto, com as personagens oswaldianas. Nesse sentido, o autor usa os nomes de modo paródico, uma vez que Abelardo I se une a Heloísa por puro interesse: é um agiota, que vive da exploração dos outros, cujos devedores se apresentam, na peça, dentro de uma jaula. Heloísa de Lesbos pertence à aristocracia rural brasileira, falida e em decadência. Deste modo, o sentido romântico do texto original fica totalmente subvertido pela moderna intepretação de Oswald de Andrade.
Abelardo I é um representante da burguesia ascendente da época. Seu oportunismo, aliado à crise da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, permite-lhe todo tipo de especulação: com o café, com a indústria, etc. Sua caracterização como o "Rei da Vela" é extremamente irônica e significativa: ele fabrica e vende velas, pois "As empresas elétricas fecharam com a crise. Ninguém mais pode pagar o preço da luz". Também é costume popular colocar uma vela na mão de cada defunto, assim Abelardo I "herda um tostão de cada morto nacional". Abelardo torna-se então o símbolo da exploração, à custa da pobreza e das superstições populares. Como personagem, ele também denuncia a invasão do capital estrangeiro; dai a irônica consideração sobre "a chave milagrosa da fortuna, uma chave yale".
Heloísa representa a ruína da classe fazendeira. Seu pai, coronel latifundiário, vai à falência, num retrato em que predomina a perversão e o vício, símbolos de uma classe social em decadência. A aliança de Abelardo e Heloisa pode, assim, representar a fusão de duas classes sociais corruptas pelo sistema capitalista.
Uma terceira personagem vem a completar o quadro social do Brasil da época: Mr. Jones, que simboliza o capital americano; sua presença revela um país endividado: "Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo o que temos e o que não temos. Hipotecamos palmeiras quedas de águas. Cardeais!"O Rei da Vela”, obra representativa da década de 30, marca uma época de preocupações e compromissos sociais.
Escrita em 1933 e publicada em 1937, em tres atos, O Rei da Vela constitui- se no texto teatral mais importante de Oswald de Andrade. A Peça demorou trinta anos para ser apresentada em São Paulo, pelo Grupo Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Correa; a encenação marcou época na história do teatro brasileiro. As protagonistas Abelardo I e Heloisa, da tradição medieval. Abelardo I é um representante da burguesia ascendente da época. Seu oportunismo, aliado à crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque, de 1929, permite- lhe todo tipo de especulação:'com o café , com a indústria etc. Sua caracterização como o "Rei da Vela"é extremamente irônica e significativa: ele fabrica e vende velas, pois "As empresas elétricas da luz". Também é costume popular colocar uma vela na mão de cada defundo, assim Abelardo I "herda um tostão de cada morto nacional". Abelardo torna - se então o símbolo da exploração, à custa da pobreza e das superstições populares. Como personagem, ele também denuncia a invasão do capital estrangeiro; daí a irônica consideração sobre "a chave milagrosa da fortuna, uma chave vale" . Seus devedores se apresentam , na peça , dentro de uma jaula. Heloísa representa a ruína da classe fazendeira. Seu pai , coronel latifundiário, vai à falência, num retrato em que predomina a perversão e o vício, símbolos de uma classe social em decadência. A aliança de Abelardo e Heloísa pode assim, representar a fusão de duas classes sociais corruptas pelo sistema capitalista. Uma terceira personagem vem a completar o quadro social do Brasil da época: Mr Jones, que simboliza o capital americano; sua presença revela um país endividado: "Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo o que temos e o que não temos.
ESTUDO SOBRE O LIVRO "O GRANDE GATSBY" FITZGERALD
O GRANDE GATSBY – F. SCOTT FITZGERALD
PLANO DA REALIDADE – AUTOR F. S. FITZGERALD / LEITOR
PLANO DA ENUNCIAÇÃO – NARRADOR NICK/ RECEPTOR LEITOR
PLANO DO ENUNCIADO
PERSONAGENS:
NICK CARRAWAY - NARRADOR
JAY GATSBY – JAY GATZ - PERSONAGEM PRINCIPAL
JORDAN BAKER – ESPORTISTA, NAMORADA DE NICK
DAISY BUCHANAN – ESPOSA DE TOM, AMADA DE GATSBY
TOM BUCHANAN – ESPOSO DE DAISY, AMANTE DE MYRTLE
MYRTLE WILSON – ESPOSA DE WILSON E AMANTE DE TOM
WILSON – MECÂNICO, CASADO COM MYRTLE.
ENREDO: Nick começa contando a história de sua família até que começa a falar de um vizinho seu, Gatsby, que ninguém conhece realmente, havendo assim muitos boatos sobre a sua vida. Gatsby por sua vez, esbanja dinheiro com festas enormes cada final de semana, tornando um evento cada uma delas. Pessoas influentes freqüentam as suas festas mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Quando Nick e Jay Gatsby se conhecem, acabam tornando-se íntimos e Jay conta sobre a sua vida a Nick, que além de ser seu vizinho, torna-se seu amigo. Bem como o casal Daisy e Tom que moram do outro lado do estreito, cujos amigos acabam se descobrindo através de Jordam que se interessa por Nick. Gatsby acaba sabendo que seu amigo é também amigo de Daisy, uma antiga namorada que ainda lhe inspira sentimentos e é casada com Tom que a trai com Myrtle Wilson, casada com Wilson, o mecânico de Tom. Daisy e Gatsby retomam o romance através de um encontro promovido por Nick, causando estranhamento em Tom que desconfia da mulher. Com o desenrolar da trama Myrtle é atropelada com o carro de Gatsby, Wilson descobre que foi o carro de Jay e o mata em sua mansão, suicidando-se em seguida. Tom e Daisy mudam-se, somem. Nick é o único que fica em companhia do morto até a chegada do pai de Gatsby e mais ninguém vem até a casa para o cortejo fúnebre. O milionário morre na solidão e é abandonado pela mulher que ama, tentando recuperar o passado perdido em função da guerra, que não volta.
ESPAÇOS:
EXTERNOS: NOVA YORK, WEST EGG.
INTERNOS: CASA DE GATSBY, CASA DE DAISY, CASA DE NICK, BARES, JARDIM DE GATSBY.
TEMPO: MEADOS DE 1922. SÉC. XX
PASSADO – PERÍODO DE 2, 3 ANOS A HISTÓRIA SE PASSA ATRAVÉS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DE ESTAÇÕES.
NARRADOR: NICK QUE Seguindo a classificação de Friedman, o “narrador testemunha” possui um ângulo de visão mais limitado. Narra em primeira pessoa e é interno à narrativa, vivendo os acontecimentos como personagem secundário e observando-os de dentro. Quando se está em busca da verdade, apela-se para o testemunho de alguém. Ele narra da periferia dos acontecimentos, não consegue saber o que se passa na cabeça do outros, apenas pode inferir, lançar hipóteses. Usa informações alheias, ou seja, coisas que viu ou ouviu, e até mesmo, de cartas ou documentos secretos que tenham ido cair em suas mãos.
FÁBULA: HOMEM RICO QUE CULTIVA AMOR POR MULHER AGORA CASADA, COM UM MARIDO QUE A TRAI E ACABA DESENCADEANDO A MORTE DA AMANTE DE TOM, A SUA PRÓPRIA MORTE, TENTANDO RECUPERAR O PASSADO, NUM CENÁRIO DE GLAMOUR E DINHEIRO.
GATSBY
sujeito
DAISY
Objeto
NICK
Amigo
TOM
Oponente
MYRTLE
Objeto
WILSON
Oponente e assassino
PLANO DA REALIDADE – AUTOR F. S. FITZGERALD / LEITOR
PLANO DA ENUNCIAÇÃO – NARRADOR NICK/ RECEPTOR LEITOR
PLANO DO ENUNCIADO
PERSONAGENS:
NICK CARRAWAY - NARRADOR
JAY GATSBY – JAY GATZ - PERSONAGEM PRINCIPAL
JORDAN BAKER – ESPORTISTA, NAMORADA DE NICK
DAISY BUCHANAN – ESPOSA DE TOM, AMADA DE GATSBY
TOM BUCHANAN – ESPOSO DE DAISY, AMANTE DE MYRTLE
MYRTLE WILSON – ESPOSA DE WILSON E AMANTE DE TOM
WILSON – MECÂNICO, CASADO COM MYRTLE.
ENREDO: Nick começa contando a história de sua família até que começa a falar de um vizinho seu, Gatsby, que ninguém conhece realmente, havendo assim muitos boatos sobre a sua vida. Gatsby por sua vez, esbanja dinheiro com festas enormes cada final de semana, tornando um evento cada uma delas. Pessoas influentes freqüentam as suas festas mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Quando Nick e Jay Gatsby se conhecem, acabam tornando-se íntimos e Jay conta sobre a sua vida a Nick, que além de ser seu vizinho, torna-se seu amigo. Bem como o casal Daisy e Tom que moram do outro lado do estreito, cujos amigos acabam se descobrindo através de Jordam que se interessa por Nick. Gatsby acaba sabendo que seu amigo é também amigo de Daisy, uma antiga namorada que ainda lhe inspira sentimentos e é casada com Tom que a trai com Myrtle Wilson, casada com Wilson, o mecânico de Tom. Daisy e Gatsby retomam o romance através de um encontro promovido por Nick, causando estranhamento em Tom que desconfia da mulher. Com o desenrolar da trama Myrtle é atropelada com o carro de Gatsby, Wilson descobre que foi o carro de Jay e o mata em sua mansão, suicidando-se em seguida. Tom e Daisy mudam-se, somem. Nick é o único que fica em companhia do morto até a chegada do pai de Gatsby e mais ninguém vem até a casa para o cortejo fúnebre. O milionário morre na solidão e é abandonado pela mulher que ama, tentando recuperar o passado perdido em função da guerra, que não volta.
ESPAÇOS:
EXTERNOS: NOVA YORK, WEST EGG.
INTERNOS: CASA DE GATSBY, CASA DE DAISY, CASA DE NICK, BARES, JARDIM DE GATSBY.
TEMPO: MEADOS DE 1922. SÉC. XX
PASSADO – PERÍODO DE 2, 3 ANOS A HISTÓRIA SE PASSA ATRAVÉS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DE ESTAÇÕES.
NARRADOR: NICK QUE Seguindo a classificação de Friedman, o “narrador testemunha” possui um ângulo de visão mais limitado. Narra em primeira pessoa e é interno à narrativa, vivendo os acontecimentos como personagem secundário e observando-os de dentro. Quando se está em busca da verdade, apela-se para o testemunho de alguém. Ele narra da periferia dos acontecimentos, não consegue saber o que se passa na cabeça do outros, apenas pode inferir, lançar hipóteses. Usa informações alheias, ou seja, coisas que viu ou ouviu, e até mesmo, de cartas ou documentos secretos que tenham ido cair em suas mãos.
FÁBULA: HOMEM RICO QUE CULTIVA AMOR POR MULHER AGORA CASADA, COM UM MARIDO QUE A TRAI E ACABA DESENCADEANDO A MORTE DA AMANTE DE TOM, A SUA PRÓPRIA MORTE, TENTANDO RECUPERAR O PASSADO, NUM CENÁRIO DE GLAMOUR E DINHEIRO.
GATSBY
sujeito
DAISY
Objeto
NICK
Amigo
TOM
Oponente
MYRTLE
Objeto
WILSON
Oponente e assassino
ESTUDO SOBRE O LIVRO "A MORTE DE IVAN ILICHT" DE TOLSTÓI
A MORTE DE IVAN ILITCH – LIEV TOLSTÓI
PLANO DA REALIDADE = AUTOR LIEV / LEITOR
PLANO DA ENUNCIAÇÃO = NARRADOR ONISCIENTE NEUTRO/ RECEPTOR
PLANO DO ENUNCIADO:
PERSONAGEM: Ivan Ilitch, juiz, casado com Praskóvia Fiódorovna, pai de uma moça e de um menino. Homem respeitável, de boa conduta, vivia para o trabalho, passava pouco tempo com a família e o tempo que passava com ela ainda brigava muito. Não tinha um bom relacionamento com a esposa.
ENREDO: Ivan casa-se com Praskóvia Fiódorovna assim que se forma em direito e vai trabalhar com a elite dos palácios. Após o casamento, seu trabalho entra em declive e a promoção de cargo que ele espera não sai. Ele luta para conseguir um emprego e salário melhor, através da indicação de um amigo magistrado ele consegue. Muda-se para outra residência que ele mesmo prepara para a chegada da família. Antes da mesma chegar, Ivan tem uma queda e bate com as costas causando um grande ematoma que ele mesmo ignora. A família chega e fica deslumbrada com a nova casa e a mulher fica mais amável com Ivan, o clima ameniza. Pouco tempo depois Ivan começa a sentir dores e procura vários especialistas que lhe dão tratamentos ineficazes. A mulher parece pouco ligar para tudo, inclusive para a doença do marido, que progride consideravelmente. O rim e o ceco do juiz parecem não funcionar e a família começa a viver uma mentira de que tudo irá melhorar e Ivan ficará bom. Logo ele deixa de trabalhar e só sente-se melhor na companhia do criado Guerássim que bondoso lhe ergue as pernas. A filha do doente é pedida em casamento e pouco depois o pai piora e sofre durante três dias de gritos e agonias, trazendo dramas psicológicos e revendo a vida que Ivan levara até que ele “entra dentro do saco preto” , ou seja, morre.
ESPAÇO:
Palácio da justiça (externo)
Casa de Ivan (interno)
Quarto (interno)
Os espaços internos com drama- onde existem conflitos
O externo (sem drama) – mera decoração.
Espaço dimensional – horizontal- humano- natural.
Espaço tópico – conhecido, seguro.
TEMPO:
História começa no presente, vai ao passado e volta ao presente. Séc. XIX.
NARRADOR:
Onisciente neutro: terceira pessoa, descreve e explica as personagens sem intrusõese comentários: sumário.
FÁBULA:
Homem de grande responsabilidade e notável, conta como acontece sua própria morte.
Ivan-sujeito vida plena e feliz – objeto
Trabalho- escape
Família - oponente
PLANO DA REALIDADE = AUTOR LIEV / LEITOR
PLANO DA ENUNCIAÇÃO = NARRADOR ONISCIENTE NEUTRO/ RECEPTOR
PLANO DO ENUNCIADO:
PERSONAGEM: Ivan Ilitch, juiz, casado com Praskóvia Fiódorovna, pai de uma moça e de um menino. Homem respeitável, de boa conduta, vivia para o trabalho, passava pouco tempo com a família e o tempo que passava com ela ainda brigava muito. Não tinha um bom relacionamento com a esposa.
ENREDO: Ivan casa-se com Praskóvia Fiódorovna assim que se forma em direito e vai trabalhar com a elite dos palácios. Após o casamento, seu trabalho entra em declive e a promoção de cargo que ele espera não sai. Ele luta para conseguir um emprego e salário melhor, através da indicação de um amigo magistrado ele consegue. Muda-se para outra residência que ele mesmo prepara para a chegada da família. Antes da mesma chegar, Ivan tem uma queda e bate com as costas causando um grande ematoma que ele mesmo ignora. A família chega e fica deslumbrada com a nova casa e a mulher fica mais amável com Ivan, o clima ameniza. Pouco tempo depois Ivan começa a sentir dores e procura vários especialistas que lhe dão tratamentos ineficazes. A mulher parece pouco ligar para tudo, inclusive para a doença do marido, que progride consideravelmente. O rim e o ceco do juiz parecem não funcionar e a família começa a viver uma mentira de que tudo irá melhorar e Ivan ficará bom. Logo ele deixa de trabalhar e só sente-se melhor na companhia do criado Guerássim que bondoso lhe ergue as pernas. A filha do doente é pedida em casamento e pouco depois o pai piora e sofre durante três dias de gritos e agonias, trazendo dramas psicológicos e revendo a vida que Ivan levara até que ele “entra dentro do saco preto” , ou seja, morre.
ESPAÇO:
Palácio da justiça (externo)
Casa de Ivan (interno)
Quarto (interno)
Os espaços internos com drama- onde existem conflitos
O externo (sem drama) – mera decoração.
Espaço dimensional – horizontal- humano- natural.
Espaço tópico – conhecido, seguro.
TEMPO:
História começa no presente, vai ao passado e volta ao presente. Séc. XIX.
NARRADOR:
Onisciente neutro: terceira pessoa, descreve e explica as personagens sem intrusõese comentários: sumário.
FÁBULA:
Homem de grande responsabilidade e notável, conta como acontece sua própria morte.
Ivan-sujeito vida plena e feliz – objeto
Trabalho- escape
Família - oponente
ESTUDO SOBRE O LIVRO "ESPERANDO GODOT" DE BECKET
ESPERANDO GODOT
VLADIMIR- velho, de + ou – uns 50 anos, tranqüilo, amável,
ESTRAGON- velho, de + ou – 50 anos também, mais agitado, rabugento, esquecido,
POZZO- dono de Lucky, senhor, rude, fumante, autoritário, individualista
LUCKY- escravo, rude, violento, condicionado, “com problemas mentais”,
GODOT- homem pelo qual os personagens principais esperam.
ENREDO:
Os dois homens de + ou – 50 anos esperam um senhor chamado de Godot em uma estrada perto de uma árvore que eles identificam como um chorão. Passam dias com essa incumbência, porém Godot não aparece. Por duas vezes Godot manda um menino avisar que ele não vai ao encontro dos dois, o que faz crer que ele realmente existe e não é uma “loucura” da cabeça dos dois personagens. Os dois discutem sobre trivialidades até seus questionamentos interiores durante a espera. Essa espera não é só meio enlouquecedora porque chegam outros dois personagens: Pozzo e Lucky, que ajudam os dois a passar o tempo de espera. Lucky é escravo de Pozzo e faz tudo o que lhe é ordenado e é conduzido por uma corda no pescoço, sem pensar. Apesar de ele ter apenas um pensamento durante a peça inteira, e mesmo assim, ele não fala coisa com coisa. Depois que partem, os dois personagens principais voltam a discutir trivialidades e até o que os faz ficarem juntos a tanto tempo, cuidando um do outro. Em seguida, Pozzo e Lucky voltam e Pozzo está cego. O descaso que Pozzo tivera com os dois, os dois tiveram com ele quando os encontraram novamente e o senhor daquele estado de dependência. Após uma queda de Pozzo e Lucky, Vladimir e Estragon ajudam os dois a levantarem e eles partem. Tudo o os prende é o fato de estarem esperando permanentemente Godot, que nunca aparece.
No final, eles cogitam a idéia do suicídio, mas desistem até o outro dia em que Godot não apareça.
Parece que se passam três dias nessa espera.
Os dois personagens são muito pobres, comem só nabos e cenouras, roendo ossos que Pozzo já pôs fora, aproveitam-se de chapéus (coco) e botas já utilizadas e postas fora por outras pessoas.
VLADIMIR- velho, de + ou – uns 50 anos, tranqüilo, amável,
ESTRAGON- velho, de + ou – 50 anos também, mais agitado, rabugento, esquecido,
POZZO- dono de Lucky, senhor, rude, fumante, autoritário, individualista
LUCKY- escravo, rude, violento, condicionado, “com problemas mentais”,
GODOT- homem pelo qual os personagens principais esperam.
ENREDO:
Os dois homens de + ou – 50 anos esperam um senhor chamado de Godot em uma estrada perto de uma árvore que eles identificam como um chorão. Passam dias com essa incumbência, porém Godot não aparece. Por duas vezes Godot manda um menino avisar que ele não vai ao encontro dos dois, o que faz crer que ele realmente existe e não é uma “loucura” da cabeça dos dois personagens. Os dois discutem sobre trivialidades até seus questionamentos interiores durante a espera. Essa espera não é só meio enlouquecedora porque chegam outros dois personagens: Pozzo e Lucky, que ajudam os dois a passar o tempo de espera. Lucky é escravo de Pozzo e faz tudo o que lhe é ordenado e é conduzido por uma corda no pescoço, sem pensar. Apesar de ele ter apenas um pensamento durante a peça inteira, e mesmo assim, ele não fala coisa com coisa. Depois que partem, os dois personagens principais voltam a discutir trivialidades e até o que os faz ficarem juntos a tanto tempo, cuidando um do outro. Em seguida, Pozzo e Lucky voltam e Pozzo está cego. O descaso que Pozzo tivera com os dois, os dois tiveram com ele quando os encontraram novamente e o senhor daquele estado de dependência. Após uma queda de Pozzo e Lucky, Vladimir e Estragon ajudam os dois a levantarem e eles partem. Tudo o os prende é o fato de estarem esperando permanentemente Godot, que nunca aparece.
No final, eles cogitam a idéia do suicídio, mas desistem até o outro dia em que Godot não apareça.
Parece que se passam três dias nessa espera.
Os dois personagens são muito pobres, comem só nabos e cenouras, roendo ossos que Pozzo já pôs fora, aproveitam-se de chapéus (coco) e botas já utilizadas e postas fora por outras pessoas.
Assinar:
Postagens (Atom)


